
Nossos parâmetros mudam com a experiência,
e isso inclui a experiência literária. “O Coração das Trevas”, de Joseph
Conrad, teria tudo para ser o romance mais sinistro do século 20, até o
aparecimento de “Meridiano de Sangue”, de Cormac McCarthy: o livro, nos
domínios da alta literatura, mais diabólico que existe.
As duas obras guardam uma semelhança
fundamental: são baseadas no encontro (que resulta em choque traumático) entre
aquilo que o pensamento colonialista da era liberal designou de “civilização e
barbárie”. Lá, europeus que invadiram o Congo; aqui, norte-americanos que
invadiram as terras mexicanas e indígenas.
De lá para cá os conceitos mudaram, mas o
contexto é aquele mesmo de um século e meio atrás, apesar de “Meridiano” ter
sido escrito em 1985. No caso de McCarthy, ao contrário de tantas versões
romantizadas, não é uma visão idílica da expansão americana em direção ao
Pacífico. É uma visão de terror, em que os yankees são os terroristas da vez:
tão perversos quanto os seguidores de Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado
Islâmico. Muitos árabes e palestinos talvez gostariam de jogar essa visão na
cara dos judeus e de seus defensores do Ocidente: é ficção, mas possui
incômodas analogias históricas. Diga-se a verdade, é inspirado na História.
Falar em expansão sugere movimentos de
massa como objetivos sedentários. Pioneirismo, sob cujo estandarte avançaria
também o progresso material e espiritual. É de outra coisa, em regra associada
a tais fluxos, que falamos; por assim dizer, da face mais obscura dessas
grandes aventuras que normalmente classificamos de “heroicas”, típicas do Novo
Mundo. A publicidade e o cinema americano nos deram versões bonitinhas daqueles
carroções cheios de corajosas famílias puritanas sendo atacadas por índios
maus, de pele vermelha. Nem sempre ficou claro que era uma inversão de valores,
para justificar uma invasão em massa: os sem-terra da burguesia ascendente
invadindo a propriedade dos nativos. A História é cheia dessas ironias
instrutivas.
Limpeza étnica era política de Estado dos
governos norte-americanos no século 19. A desculpa de sempre, nas disputas
territoriais visando à demarcação de fronteiras: os aborígenes (Apaches, Sioux,
Cherokees, Comanches, Iroqueses, Gilenos etc.) representavam um obstáculo para
o progresso econômico capitalista e à integração nacional do país, que agregou
também o Sul agrário, muito semelhante ao Brasil colonial. Estima-se que, em
seu movimento para o Oeste, 23 milhões de índios foram dizimados: três vezes o
número de judeus mortos pelos nazistas, na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Além do componente econômico pesava,
ainda, a variável cultural do racismo, uma vez que a miscigenação — ao
contrário do que aconteceu largamente no Brasil — estava fora de questão para o
invasor: brancos judaico-cristãos oriundos da Nova Inglaterra (atual costa
Oeste dos Estados Unidos). Uma espécie de “pessoas de bem”, daquela época.
A política anti-indigenista tornou-se
abertamente agressiva com um dos mais respeitados presidentes do país, o
democrata Andrew Jackson (1829-1837), que mereceu de André Maurois, biógrafo
francês, o seguinte retrato: “Mal grado seus duelos, suas pragas pitorescas e
seus acessos de cólera, lia a Bíblia e tinha a dignidade e as maneiras
cavalheirescas do Sul”. Conhecemos bem o tipo, mas nada disso adiantou muito ao
cidadão exemplar do Tennessee. A promulgação do “Indian Removal Act”, de 1830, permitiu
a este homem do povo segregar mais de 16 mil índios do Sul no estado de
Oklahoma, a Oeste do Rio Mississippi. Tais deslocamentos populacionais ficaram
conhecidos como Trail of Tears (Rastro de Lágrimas).
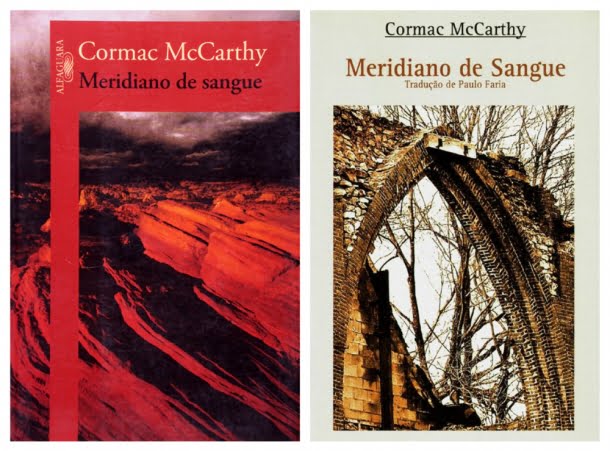
Milhares de nativos morreram de doenças e
de esgotamento, nessas longas jornadas excruciantes, sob a vigilância do
Estado, que contava não apenas com o exército regular para fazer cumprir a lei.
Também milícias contratadas por governos estaduais, com a finalidade de matar
os nativos, eram comuns no Velho Oeste. Eis o cenário montado para que a gangue
de Glanton (bando sanguinário de “Meridiano de Sangue”) entrasse em ação, à
cata de escalpes: couro cabeludo arrancado de forma violenta.
O livro de Cormac McCarthy está
perfeitamente contextualizado, não só porque a história narrada reflete o
Terrorismo do século 19, nos EUA, mas também porque o Terrorismo continua
traumático, na História do século 21. Como um profeta, o romancista ligou as
duas pontas e colocou seu país diante do espelho.
Os bárbaros de Cormac McCarthy
Não há, é claro, registro, na História
norte-americana, de uma tal gangue de Glanton. É uma invenção de McCarthy,
cheia de personagens perfeitamente individualizados: Toadvine, Padre Tobin,
Jackson Negro, Webster, o próprio Glanton, o chamado “rapaz” (Kid) e juiz
Holden. Os três últimos são centrais à trama, em especial Kid e Holden: o
romance começa com a fuga sem rumo daquele e com a perseguição que este lhe
impõe, até matá-lo. O centro da história pode ser essa perseguição, e a
pergunta essencial talvez seja: o que os dois representam, afinal?
É até possível identificar a conjuntura
política em que atuam: estamos em meados do século 19 nos EUA, no Velho Oeste,
em algum momento entre os governos de James Polk e Abraham Lincoln, quando o
estado mexicano de Chihuahua, fronteiriço ao Texas, foi de fato governado por
Angel Trias, personagem histórico com quem os caçadores de escalpe brindam, no
capítulo 13.
Contratada para matar os nativos, a
“sociedad de guerra” ou “alma comunitária” — assim a define Mccarthy, em dois
momentos — vaga pelos confins de um vasto território que, tendo constituído a
maior parte do México, passara as mãos dos Estados Unidos sob o governo
anexionista do então presidente James Polk. Foi quando o Rio Grande constituiu
oficialmente a fronteira entre os dois países, chancelada pelo tratado de
Guadalupe-Hidalgo (1846-1848).
Os Estados Unidos estavam, ainda, longe de
tornar-se uma potência — 1890 é a década de virada, e levaria ainda meio século
para sobrepujarem o Império Britânico —, mas já tinham ambições desmedidas,
claramente imperialistas, em pleno acordo com uma tendência mundial crescente,
que incluía outros países da Europa e o Japão.
O arcabouço ideológico vinha-se
sedimentando desde a independência, no século anterior, e fora recrudescida por
uma expressão criada pelo jornalista John L. O’Sullivan no “New York Morning
News”, em dezembro de 1845, e antes pela Doutrina Monroe, de 1823. Segundo a
mãe de todas as doutrinas de Estado norte-americanas, nosso continente, do
Alasca à Terra do Fogo, devia se submeter aos interesses geopolíticos daquele
país, livre da ingerência europeia. Desde então a América Latina tem sido
tratada como quintal dos Estados Unidos — a começar pelo México.
Havia um conteúdo profundamente racista
nessa convicção, segundo o qual os nativos americanos, e mesmo os mestiços com
espanhóis, eram incapazes de se autogovernar, dada a sua “inferioridade”
genética frente aos invasores de origem anglo-saxônica, supostamente
escolhidos, nas palavras do exaltado periodista O’Sullivan, pela Divina
Providência. Grécia e Roma, como nos tempos antigos, foram reeditadas por uma
civilização do século 19, em sua presunção de modelar a alteridade conforme
seus valores, costumes e paradigmas de organização social. Em “Meridiano de Sangue”,
essa ambição, com todas os seus preconceitos, é expressa por um certo capitão
White, no capítulo 3. A História é um personagem central do romance.

Considerando os mexicanos, eis o que diz o
chefe militar da primeira expedição — uma espécie de Salvador — na qual Kid se
integra: “Estamos em presença de um povo manifestamente incapaz de si governar
a si próprio. E sabe o que acontece aos povos que não conseguem governar a si
próprios? Nem mais. Vêm povos de fora governá-los”. Ou ainda: “Nós seremos os
instrumentos de libertação numa terra sombria e turbulenta”. Um importante
historiador equatoriano, Jorge Nuñez Sanchez, chamou essa postura de “negativo
ideológico” da consciência social norte-americana.
Mas quem seriam os bárbaros, nessa
tragédia de feições épicas? Aqui a coisa se complica, já que nenhuma versão
fica de fora, ainda que nos simpatizemos com a última. Para White e seus
comandados, são os mexicanos. Para a expedição punitiva liderada por Glanton,
em seguida, são os aborígenes. E para o narrador (McCarthy?) é o homem branco,
vindo das ilhas britânicas em direção à Nova Inglaterra, deixando atrás de si,
sempre a caminho do Ocidente, uma impressionante trilha de sangue.
Os horrores que essas disputas
territoriais causaram desafiam a linguagem, mas McCarthy não se intimidou. Por
mais sádico que pareça, de sua parte, “Meridiano de Sangue” é uma tentativa de
imprimir na memória comum algo que não pode jamais ser esquecido: a maldade
humana. E como esquecer quando a arte é tão precisa?
Da História ao coração do homem
A violência contra animais e pessoas é uma
regra do livro. Exemplos (e todos são extremos): a matança das mulas num
despenhadeiro, o descarnamento de milhares de bisões nas pradarias do Texas, a
degola de Jackson Branco por Jacson Negro, e por aí vai, a cada dez páginas ou
menos. Não é um livro para pessoas delicadas.
De toda a sequência, talvez o episódio
mais nauseante seja este (edição portuguesa, tradução de Paulo Faria): “Na
terceira noite agacharam-se atrás das velhas muralhas esfareladas de adobe, com
as fogueiras do inimigo a menos de uma milha de distância no deserto. O juiz
sentou-se diante do fogo com o garoto Apache e brincou com ele e fê-lo rir e
deram-lhe carne curada e ele quedou-se acocorado a mastigá-la e a observar
gravemente as figuras que passavam à sua beira. Cobriram-no com uma manta e de
manhã o juiz estava a baloiçá-lo num joelho enquanto os homens selavam os
cavalos”.
Na sequência, McCarthy usa um truque
narrativo infalível, ao quebrar a expectativa com uma conjunção adversativa e
surpreender o leitor, e de forma absolutamente perversa: “Toadvine viu-o [ao
juiz] com o garoto ao passar com a sela nas mãos mas quando regressou dez
minutos depois a conduzir o cavalo pela arreata o garoto estava morto e o juiz
escalpara-o”.
É uma cena tão chocante que até mesmo
Toadvine, mercenário e assassino profissional, reage de forma inesperada:
“Toadvine encostou o cano da pistola à grande cúpula da cabeça do juiz.
“Diabos te levem, Holden.” “Ou disparas ou
tira isso daí. Decide-te.” “Toadvine enfiou a pistola no cinto. O juiz sorriu e
limpou o escalpe à perna das calças e pôs-se de pé e virou as costas.”
Pela chave interpretativa que propomos, o
juiz Holden bem pode ser símbolo daquela maldade, que justifica o Terrorismo e
não se consegue eliminar da História humana. É disso que trata o livro, em
parte. Certas reflexões contidas na obra nos levam a essa conclusão. Senão
vejamos.
No início de sua longa deambulação em
direção ao Texas, Kid encontra-se no deserto com um eremita, que lhe dá abrigo.
Enquanto conversam sob a tenda, à noite, outro símbolo aparece, das mãos do
velho: “Virou-se e remexeu no meio das peles e estendeu ao rapaz, por cima das
chamas, um objeto pequeno e escuro. O rapaz fez girar o objeto entre os dedos.
Um coração humano, seco e enegrecido”.
Pouco depois o mesmo dirá, sobre o homem:
“Pode entender o próprio coração, mas não quer. E faz muito bem. O melhor é nem
espreitar lá dentro. Não é o coração de uma criatura que esteja no caminho que
Deus lhe traçou. Encontra-se a ruindade na mais mesquinha das criaturas, mas
quando Deus criou o homem tinha o diabo à sua ilharga. Uma criatura capaz de
tudo, capaz de criar uma máquina e uma máquina para criar a máquina. E maldade
que se perpetua sozinha durante um milhar de anos, sem ser preciso
alimentá-la”.
O tema é novamente referido adiante, em
forma de parábola, quando Kid cruza com um velho correeiro dos Alleghenies: “O
viajante concluiu dizendo ao velho que ele estava perdido para Deus e para os
homens e que assim continuaria até que o seu coração acolhesse o seu semelhante
com o mesmo calor com que se acolheria a si próprio caso desse consigo mesmo na
penúria, à deriva nalgum lugar deserto do mundo”.

Praticamente não há sinais de bondade ou
solidariedade em “Meridiano de Sangue”, mas a fala, acima, é muito assertiva.
Parece um recado ao leitor, acerca do único caminho possível para nos livrar do
torvelinho de coisas ruins que assola nossa existência coletiva. Outra
evidência, além do coração: em sua passagem por um vilarejo, Kid entra de casa
em casa, numa das quais encontra coisas coladas à parede. Uma delas é “uma
carta de tarot que era o quatro de copas”. Ao pesquisar a respeito, fica-se
sabendo que a mensagem desse arcano é: “repensar a própria vida”.
É como se McCarthy transitasse da História
ao coração do homem, a fim de esconjurar a seguinte afirmação do diabólico juiz
Holden: “A verdade acerca do mundo (…) é que tudo é possível”. É uma sentença
vulgar, porém verdadeira.
Depois do genocídio dos nativos
norte-americanos no século 19, do Holocausto dos Judeus e do 11 de Setembro,
quem duvida dela? Que horrores ainda vamos ver no curso da História, se não
repensamos nossa vida?
O livro de sangue de Cormac McCarthy publicado primeiro em https://www.revistabula.com
Sem comentários:
Enviar um comentário